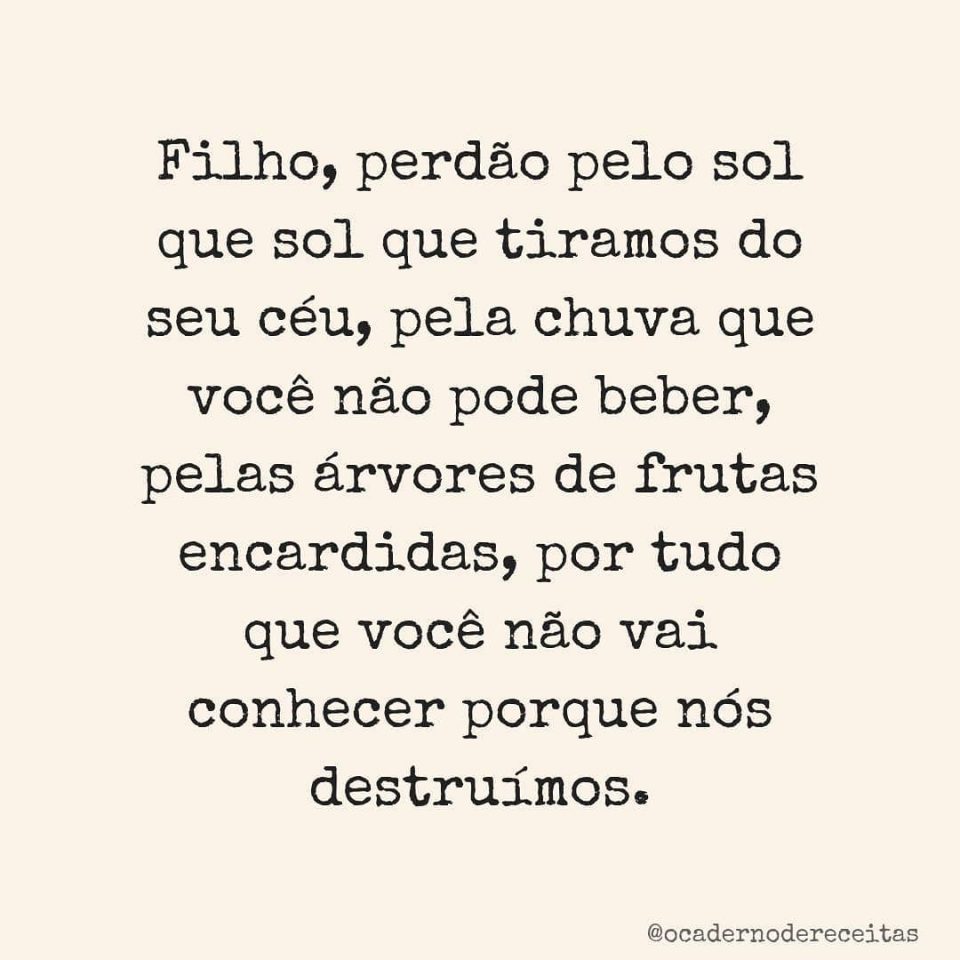Na minha coluna na Casa e Jardim deste mês, publico uma receita de conserva de maxixe de Telma Shiraishi, do Aizomê. Aqui no blog, além da receita, compartilho trechos da entrevista com a chef. Na conversa, ela me contou sobre seu mergulho nas raízes nipo-brasileiras para desenvolver uma cozinha japonesa autêntica e autoral, com ingredientes locais — que foram parar inclusive nas marmitas da princesa Mako do Japão em visita ao Brasil.
Neta de imigrantes, Telma chegou à gastronomia depois de tentar a medicina, a moda e publicidade. Acabou se tornando uma embaixadora da culinária do Japão. No sentido figurado e no literal. Desde 2018 é responsável por banquetes e recepções do consulado japonês em São Paulo. Em março deste ano, recebeu do governo japonês o título de Embaixadora da Boa Vontade da Difusão da Culinária Japonesa. E agora em abril inaugurou a segunda unidade do Aizomê, dentro da Japan House, centro cultural na avenida Paulista — lá sua missão é mostrar para mais gente que vale a pena conhecer a comida japonesa além do sushi de salmão.
Comida da infância
“Meus avós são imigrantes japoneses, meus pais já nasceram aqui. No final de semana se faziam mesas enormes, de 20, 30 pessoas, na casa de um avô ou de outro. Sempre tinha muita mistura: podia ter sashimis e churrasco, podia ter macarronada com sushi. E sempre nesse tom de celebração, de encontro, de estar todo mundo junto, de partilhar.
Lembro da minha avó paterna supercontente e emocionada porque tinha conseguido ingredientes para fazer sushi. Naquela época era muito difícil conseguir um bom arroz, uma alga nori. Alguém tinha trazido do Japão para ela, que serviu uma reunião de família.
Meu pai era gerente do Banespa no Largo da Batata. A gente morava na região e ia ao mercado de Pinheiros comprar peixe e outras coisas. Só que, depois que ele sofreu um assalto, decidiu se mudar para o interior. Dos 10 aos 17, morei em Paraibuna e era muito moleca. Quando não estava com um livro, eu estava no mato, vendo bicho, vendo planta. Também pescava muito com meu pai. A gente chegava com peixes e minha mãe morria de nojo, acabava que eu os limpava.
No interior era mais difícil ainda conseguir alguns ingredientes. Mas a gente tinha uma dieta muito variada. Minha mãe trocava receita com as vizinhas, uma era italiana, outra era libanesa…
Os vizinhos ou tinham fazenda ou tinham uma horta no quintal. Lembro da minha mãe: ‘Hoje eu quero refogar uma couve, vai na vizinha’. Então eu ia correndo, tocava a campainha, a gente descia no quintal e catava a folha de couve no pé.
Do lado de casa tinha uma árvore de sabugueiro que, quando dava flor, ficava cheia de borboletas. Tanto que tem uma soda de sabugueiro aqui (na Japan House). É um pouco disso que eu resgato.”
Mudanças de rumo
“Como eu tinha facilidade para estudar, [a família aconselhou]: ‘ah, vai ser médica’. E, como eu não tinha uma vocação muito nítida, falei: ‘vou tentar’. Não sei se por sorte ou por azar, passei direto na USP. Mas no terceiro ano, quando você começa em hospital e vê o ser humano em situações muito tristes e feias, percebe que o buraco é mais embaixo. Para mim, foi pesado. Na época a USP estava com um programa de formação de cientistas e tinha criado um curso Experimental de Ciências Moleculares. Fiquei um ano nesse programa, mas comecei a perceber que a minha vocação talvez fosse mais artística. Fiz um semestre de publicidade, aí fui estudar moda. Sempre fui meio excêntrica, pintava o cabelo de azul, roxo, laranja, vermelho, gostava de me vestir diferente. Acabei trabalhando dois anos com o Fause Haten, como assistente de estilo. Depois tive a minha primeira filha e fiquei um tempo em casa. Aos poucos comecei a trabalhar como freelancer em eventos. E cada vez mais as pessoas foram me pedindo para fazer a parte gastronômica. Até que uma prima do meu marido me ofereceu para comprar a parte dela num restaurante japonês moderninho que ela tinha aberto na Vila Olímpia com chef Shin [Koike]. Eu e o Shin deixamos esse restaurante lá e abrimos outro, um japonês para japoneses. Foi quando nasceu o Aizomê.
Desde o início, 12 anos atrás, estava claro que queríamos trabalhar fora dos padrões do que era corrente em restaurante japonês. O que estava na moda eram nos modelos americanos, com sushi de salmão, cream cheese, roll califórnia. E havia uma culinária japonesa mais ou menos tradicional restrita à comunidade, na Liberdade ou em Pinheiros. No Aizomê, todo o cardápio, a base de sabores, tudo foi pensado para os japoneses e principalmente para os japoneses da região da Paulista, onde estão as grandes sedes das empresas japonesas.”
Uma nipo-brasileira na cozinha
“No começo eu fazia tanto a parte administrativa quanto a cozinha do Aizomê. Depois de cinco anos o Shin quis fazer outros projetos e de repente eu estava sozinha. Uma mulher que nem é japonesa num restaurante voltado para japoneses.
Tive que ir mais fundo ainda. Depois de cinco anos eu já tinha entendido um pouco dos sabores. No Ocidente a gente fala em doce, salgado, ácido e amargo, para os japoneses o mais importante é o quinto gosto, o umami. Todas as preparações, o dashi, que é o caldo básico, e todas as técnicas são para realçar esse umami. O maior desafio foi entender isso e entender como você extrai isso dos alimentos e das combinações. Fiz isso viajando, indo aos mercados. E pesquisando muito, estudando muito.
Os primeiros dois, três anos que eu fiquei sozinha foram para mostrar para a clientela que a qualidade e os sabores estavam todos lá ainda, para ter a chancela de que a gente continuava a ser um restaurante sério. Não foi fácil. A maioria estranhou: uma mulher…
Tive ser dura com a equipe que tinha se formado ali. Falar: ‘a gente vai continuar e agora sou eu que estou aqui’. Os profissionais da velha guarda são machistas, o machismo não vem só dos clientes.
Meu trabalho foi no sentido de ser uma chef brasileira, nipo-brasileira, buscando trazer algo autêntico nos sabores, nas preparações e nas técnicas. Isso foi uma etapa. Depois eu me senti à vontade para brincar mais e colocar meus elementos, a minha história, as referências nipo-brasileiras.”
Japonês autêntico e local
“Talvez um dos pilares da culinária japonesa seja trabalhar frescor, sazonalidade e produtos locais. É por isso que a minha conserva tem maxixe e chuchu. É o que a gente tem aqui. Até porque, se você vai ao Japão, os sabores, as preparações, os pratos mudam de região para região, de ilha para ilha, de cidade para cidade. Cada local busca sua própria expressão de sabores. Tem que fazer sentido no entorno.
Desde o início nunca colocamos salmão no sushi bar. Sempre procurei trabalhar com os peixes da nossa costa.
Algumas coisas eu não consigo substituir. Shoyu, a maioria que uso ainda é importado. Kombu, a gente não tem aqui, é uma alga de águas frias, o melhor realmente vem do norte do Japão. Katsuobushi (conserva seca de bonito) também, e um ou outro temperinho. Mas talvez em dois terços do que eu utilizo tento privilegiar produção local. O arroz, de variedade japonesa, vem do sul do Brasil ou do Uruguai. O missô (pasta de soja fermentada), eu alterno alguns produtores artesanais do interior de São Paulo. No meu caldo, uso como base uma sardinha que é curada aqui em Cananeia, à moda japonesa. E uso muita verdura, legume, fruta… Uma das grandes contribuições da geração dos meus avós, quando veio ao Brasil, foi na agricultura, com todo o cinturão verde e essa variedade que a gente vê hoje em dia.
Pesar pelo desperdício
“O Japão já teve escassez séria de alimentos. Por conta disso houve as políticas de imigração e meus avós chegaram ao Brasil. Eles têm muito forte que tudo tem que ser você aproveitado. E tudo tem que ser agradecido como uma dádiva da natureza — ou de quem plantou, de quem colheu, de quem pescou, de quem produziu aquilo. Quando você está comendo e quando você prepara uma refeição, tudo isso está atrelado. Tanto que os japoneses começam e finalizam a refeição com uma expressão de agradecimento.
Mottainai é o pesar pelo desperdício. A gente é martelado desde pequeno: ‘Mottainai! Mottainai!’ Era a bronca da minha mãe quando a gente deixava comida no prato, quando jogava fora ou não aproveitava devidamente alguma coisa, como uma roupa. Na verdade isso não é só das coisas físicas. A gente também desperdiça energia, tempo.”
Hospitalidade
“Omotenashi é a hospitalidade japonesa. Existe o mínimo de de serviço eficiente e atencioso que você tem que ter. Mas o conceito japonês vai além: é fazer algo com o coração, fazer porque você se importa, por se colocar no lugar do outro e querer proporcionar uma experiência única. Isso você percebe em cerimônia do chá. Em cada xícara de chá que é servida, aquele encontro é único. Por mais que você tenha outra xícara, outro encontro com as mesmas pessoas, o momento, a energia, tudo muda. Cada interação é única.”
Música e moda
“Eu toco piano desde os 5 anos de idade. Quando crio um prato ou cardápio ou uma refeição, penso muito em termos de uma orquestra ou de um concerto. De uma estrutura musical. Você tem a melodia, tem o fundo, tem os crescendos, tem um ritmo.
No visual, talvez eu pegue muita referência de moda: o volume, textura, o caimento, a proporção.”
Marmita da princesa
“Quando a princesa Mako veio do Japão, estava com uma agenda apertada. Aí me pediram uma encomenda especial de obentôs (marmitas) para os dias em que ela estaria em trânsito e não teria tempo de parar em nenhum lugar.
Ela queria coisas leves e simples, e eu tentei colocar alguns sabores brasileiros, como o maxixe. Porque faz sentido para mim. Na minha cozinha, tem muita gente que veio do Nordeste, e eles me trouxeram o maxixe. Eu não conhecia e adorei. Fiquei pensando como conseguiria incorporar aquilo e veio essa receita do tsukemono (conserva). Minhas clientes japonesas foram as primeiras a ficar enlouquecidas. No Japão a cultura das conservas é muito forte, os mercados têm bancas especializadas nisso, com centenas de tipos.”

RECEITA
Tsukemono de maxixe e cachaça
Ingredientes
- 10 maxixes bem verdinhos e novinhos
- 1 colher de sobremesa de sal
- 1 xícara de pinga
- ½ xícara de vinagre de arroz
- ½ xícara de shoyu (se tiver do shoyu claro melhor)
- 1 pedaço com cerca de 3 cm de alga kombu (opcional)
- 5 g de katsuobushi (peixe bonito seco) (opcional)
Modo de preparo
- Cortar os maxixes em quatro, salpicar com o sal e deixar descansar por pelo menos uma hora.
- Enquanto isso levar a aguardente ao fogo forte em uma panela. Cuidado, pois as chamas podem subir bastante ao flambar o álcool.
- Reduzir à metade, retirar do fogo e acrescentar o vinagre e o shoyu.
- Lavar os maxixes para retirar o excesso de sal e secar em papel toalha.
- Em um recipiente colocar o pedaço de alga kombu, os maxixes e acrescentar o líquido da panela. Adicionar o katsuobushi.
- Deixar marinando em geladeira por pelo menos 2 dias, virando os maxixes na mistura se necessário.
- Para servir basta retirar os maxixes do líquido e cortar em pedaços menores. O líquido da conserva pode ser reutilizado e dura de 10 a 15 dias.
Observação: A receita pode ser feita também com chuchu novinho. Se gostar, pode acrescentar algumas rodelinhas de pimenta dedo-de-moça.